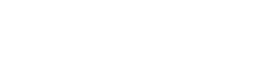Relato das atividades até o momento
Durante o primeiro semestre de 2024, o Gelice promoveu encontros quinzenais nos quais procedeu à primeira etapa da pesquisa. Nesse momento, selecionamos ensaios, artigos e capítulos variados com o objetivo de se debater criticamente alguns dos conceitos e perspectivas dominantes sobre o ensino de literatura. Discutimos, então, os textos:
- “O Pisa, o Enem e a leitura literária”, de Raquel Beatriz Junqueira Guimarães e Ivete Walty;
- “A oferta da (contra)palavra: produção escrita e leitura analítica à luz da teoria da enunciação”, de Vinícius Lourenço Linhares;
- Letramento literário: teoria e prática, de Rildo Cosson;
- “Letramento literário: cânones estéticos e cânones escolares” e “No silêncio do quarto ou no burburinho da escola”, de Graça Paulino;
- “Letramentos em disputa: o embate entre tradição e práticas literárias de reexistência no exame nacional do ensino médio”, de Marcel Alvaro de Amorim e Tiago Cavalcante da Silva;
- “A Teoria da Literatura nos bancos escolares”, de Regina Zilberman;
- “Metodologias ativas: a quem servem? nos servem?”, de José Carlos Libâneo;
- “O direito à leitura literária: notas iniciais”, de João Cezar de Castro Rocha;
- “O ensino da literatura”, de Leyla Perrone-Moisés.
Tendo como eixo orientador o conceito de enunciação, desenvolvido no texto “Leitura literária: enunciação e encenação” por Ivete Walty e Graça Paulino, na retomada que realizam dos estudos de Benveniste e Bakhtin, como o ato simultaneamente social e subjetivo de apropriar-se da linguagem, num processo interlocutório. Trata-se de uma ação individual, presente, concreta, que produz a relação eu/tu, ao mesmo tempo em que é produzida por ela, o que ressalta sua natureza individual e social. Benveniste considera que a enunciação é sempre o estabelecimento de um diálogo, mesmo que se trate do chamado monólogo interior. O eu, a primeira pessoa do discurso, a que fala para si mesma ou para o outro, insere-se em um contexto e dirige-se necessariamente a um tu, segunda pessoa, com a qual se comunica linguisticamente. A partir desse conceito de enunciação, portanto, perpassaram nossas discussões noções como as de letramento literário, leitura, cânone, teoria e história da literatura aplicadas ao ensino.
Um dos aspectos que parece aproximar as análises empreendidas nos diferentes trabalhos debatidos é o diagnóstico de um ensino de literatura deficitário, o que passa pelo acesso desigual à leitura literária, pelas mudanças curriculares, pelas tensões associadas à produção e ao consumo de materiais didáticos e paradidáticos. Mas, antes de tudo, está relacionado a modelos de ensino classificatórios, não reflexivos e descontextualizados.
Analisando a composição de itens para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Raquel Beatriz Junqueira Guimarães e Ivete Walty observam como suas questões muitas vezes são pautadas numa suposta objetividade exteriorizada, que valoriza pouco a leitura literária em nome de categorias pré-concebidas. De maneira bastante próxima, Regina Zilberman discute os pressupostos teóricos que fundamentam as provas do Enem, bem como os materiais didáticos e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Como ela observa, há nesses materiais uma “mescla de noções heterogêneas, que têm origem em teorias diversas, nem sempre compatíveis, articuláveis ou coerentes, às vezes até concorrentes ou adversárias”. Por isso, o texto literário, que deveria ser o objeto privilegiado na disciplina de literatura, “faz o papel do coringa, capaz de ocupar qualquer posição, sem assumir uma identidade específica.”
Como seria de se esperar, reafirmamos, durante os debates, o imperativo de encontrar caminhos outros que valorizem a leitura literária, estimulando a sua análise por meio de operadores analíticos mais densos em termos teórico-conceituais. Por isso mesmo, a noção de letramento literário, cunhada por Graça Paulino ainda no início dos anos 2000, ofereceu um caminho produtivo para essas reflexões. Isso porque compreende a inserção do sujeito no universo da leitura e da escrita do texto literário, possibilitando a formação do leitor apto a compreender aspectos relativos ao trabalho estético da língua, que não é necessariamente pragmático.
Por esse aspecto, a análise comparativa dos textos foi significativa por permitir visualizar a tensão entre a instituição literária e um sistema de ensino progressivamente mais pautado por objetivos pragmáticos e profissionalizantes, em um contexto em que as tecnologias digitais conduzem a transformações dos hábitos de leitura. A própria divisão dos conteúdos por competências e habilidades, muitas vezes ligadas às ditas metodologias ativas tão em voga na atualidade, valoriza a formação de um sujeito voltado para as dinâmicas imediatas do mercado.
Ora, notamos com Regina Zilbermann que, no contexto medieval, o ensino de literatura já esteve ligado à retórica e às práticas do falar bem em público; e que, com o advento da Modernidade, se vinculou à afirmação da identidade nacional. Mas qual seria a função do ensino da literatura na educação básica contemporânea? É nessa direção que, discutindo em termos diferentes, mas partindo de lugares próximos e chegando a conclusões análogas, os trabalhos de João Cezar de Castro Rocha e de Leyla Perrone-Moisés demonstram como é necessário questionar qual a importância da leitura literária e do ensino de literatura hoje. João Cezar responde de maneira assertiva, ao afirmar que a leitura literária inventa uma pausa que finalmente pode interromper o fluxo-vertigem de uma simultaneidade que nos torna cada vez mais prisioneiros de limites desumanizadores, em uma sociedade marcada pelo ensimesmamento da cultura do selfie e pela cultura da produção ficcional em que “a oferta de ‘drama’ supera em muito a capacidade de recepção”.
Como resultado dessas leituras e discussões, conseguimos delinear e especificar o problema que mobiliza nossa pesquisa até o momento: se é importante ensinar literatura, como fazê-lo de modo em que se articulem aspectos estéticos, históricos, sociais e políticos? Todos os textos defendem o ensino de literatura, mas permanece a dificuldade de uma abordagem que dê conta dos aspectos histórico, social, político etc. Voltando ao conceito norteador de nossa proposta, acreditamos que a abordagem pela questão da enunciação tem dado conta de nos mostrar leituras que não eliminam essas dimensões.