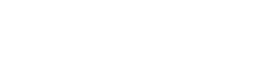Textos literários são oferecidos aos leitores à semelhança de um jogo, cujas regras básicas preveem uma postura de leitura concentrada e atenta por parte do leitor ao projeto enunciativo que o movimenta. Isso ocorre porque a produção literária, ao mesmo tempo em que encena algum assunto da vida social, é, igualmente, encenada pelas estratégias de que autores e autoras lançam mão em uma escrita planejada.
Em miúdos, o texto literário forja seus sujeitos textuais, que assumem diversas máscaras, alternando os papéis de enunciadores e enunciatários em tempos e espaços também encenados. Tais cenas são construídas pelo autor, que recorta elementos da realidade vivencial, referenciando-os. Por sua vez, o leitor também atua como partícipe desse jogo na medida em que, movido por seu imaginário, responde às interpelações do autor, que são provocadas pelas estratégias textuais.
De modo sintetizado, no tempo e no espaço, enunciadores e enunciatários correferenciam o tema a ser partilhado, constituindo-se como elementos cruciais na composição de textos, sejam eles literários ou não. Acontece que no campo de atividade humana a que chamamos ficção esses elementos cruciais têm a possibilidade de serem potencializados em um rico jogo interpretativo em que os sentidos a serem construídos pelo leitor podem escapar de uma lógica interpretativa mais pragmática.
Exemplo disso é a crônica Códigos, do autor Luis Fernando Veríssimo.
Códigos
Dona Paulina ensinou à sua filha Rosário que cada ponto do rosto onde se colocasse uma pinta tinha seu significado. Na face, sobre o lábio, num canto da boca, no queixo, na testa… A pinta, bem interpretada, mostrava quem era a moça, e o que ela queria, e o que esperava de um pretendente. O homem que se aproximasse de uma moça com uma pinta -numa recepção na corte ou numa casa de chá -já sabia muito sobre ela, antes mesmo de abordá-la, só pela localização da pinta. A três metros de distância, o homem já sabia o que o esperava. A pinta era um código, um aviso ─ ou um desafio.
Anos depois, dona Rosário ensinou à sua neta Margarida que a maneira de usar um leque dizia tudo sobre uma mulher. Como segurá-lo, como abri-lo, sua posição em relação ao rosto ou ao colo, como abaná-lo, com que velocidade, com o olhar… Só pelos movimentos do leque uma mulher desfraldava sua biografia, sua personalidade e até seus segredos num salão, e quem a tirasse para dançar já sabia quais eram as suas perspectivas, e os seus riscos, e o seu futuro.
Muitos anos depois, a Bel explicou para a sua bisavó Margarida que a fatia de pizza impressa na sua camiseta com “Me come” escrito em cima não queria dizer nada, mas que algumas das suas amigas usavam a camiseta sem a fatia de pizza.
Repare-se o jogo proposto pelo autor na composição do projeto enunciativo da crônica. De saída, já é possível perceber um enunciador posicionado como narrador, responsável por contar para o leitor, em um tom bem humorado, uma cena geral em que mulheres de uma mesma família, em gerações distintas, ensinam e aprendem reciprocamente regras de conduta amorosa para flertar e seduzir seus pretendentes.
Continuando a leitura, é possível observar que as referidas mulheres, cujas falas são reportadas pelo narrador, são caracterizadas em função do tempo e do espaço em que cada uma se localiza. Assim, Dona Paulina e Rosário (mãe e filha respectivamente) conversam sobre o significado da posição de uma pinta desenhada no rosto de uma dama que circulasse pela recepção na corte ou numa casa de chá. Esses indícios textuais, deixados pelo autor, nos conduzem a um provável período aristocrático, evidenciando que o jogo de sedução se dava entre posições sociais iguais e/ou semelhantes de modo que, quando lido por leitores contemporâneos, poderia ser visto como sutil.
Avançando na leitura, percebemos que Rosário é posicionada como uma avó que ensina à sua neta Margarida maneiras de se manusear um leque para flertar com pretendentes em um espaço que o autor chama “salão”. Ou seja, abre-se uma nova cena não mais no período aristocrático, mas sim em um outro espaço de festa, muito provavelmente burguês, em que pessoas desse segmento social se encontravam para diversas confraternizações, incluindo, claro, a busca pelo bom casamento.
Finalmente, em um parágrafo mais curto, o autor da crônica opera uma quebra de expectativa, marcando, como é de seu feitio de escrita, a inversão nos ensinamentos sobre o jogo de sedução em tempo e espaço mais contemporâneos. Quem agora ensina regras de condutas na paquera é Bel, que é bisneta de Margarida. No lugar da pinta e do leque, o jogo de sedução se torna mais direto, já que a combinação da frase “Me come”, com ou sem uma fatia de pizza, em uma camiseta usada por Bel, deixa, pelo menos, dois sentidos entrevistos: o de um convite sexual ou o de um convite para uma refeição. Ambos os convites são feitos pelas mulheres contemporâneas, à semelhança de Bel e suas amigas, para paquerarem.
Em suma, esses pequenos quadros enunciativos descritos formam um enquadramento maior, que é dado a conhecer ao leitor pela enunciação do narrador. E o humor da crônica se constrói exatamente pelos reposicionamentos enunciativos feitos pelo autor quando troca as posições das enunciadoras e enunciatárias (Paulina, Rosário, Margarida e Bel); quando da mudança de referentes para simbolizar o flerte (pinta, leque e fatia de pizza na camiseta) e, finalmente, quando da mudança de tempo e espaço, contribuindo para mostrar que os jogos de sedução se mantêm no correr de distintos períodos e cenários.
Tudo isso, em conjunto, incita o leitor a participar do processamento da crônica de modo a compreendê-la em um tom humorado. E apenas o gesto de uma leitura mais atenta, correlacionando cenas menores à cena maior, é que se pode bem interpretar a proposta textual oferecida pelo autor a seus possíveis leitores. No mais, como se pôde perceber, os elementos que compõem a enunciação – enunciadores e enunciatários, referente, tempo e espaço – conformam os mais distintos textos e, por isso, atentar-se para o arranjo composicional desses elementos é um importante passo para leitores críticos darem-se conta de que textos literários tanto encenam elementos da realidade vivencial, quanto, igualmente, são encenados a partir de estratégias textuais de que se valem autores e autoras.